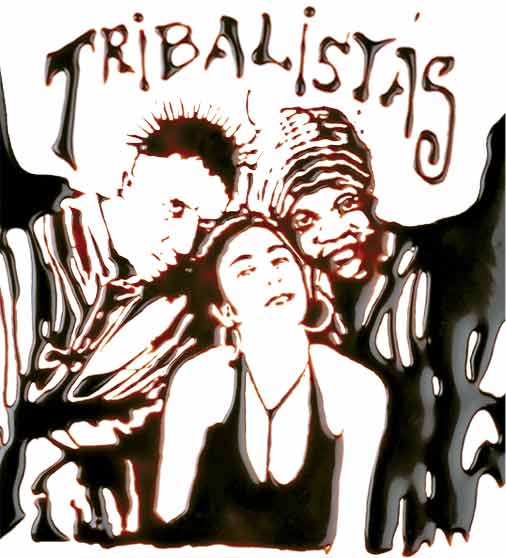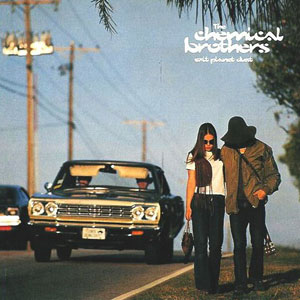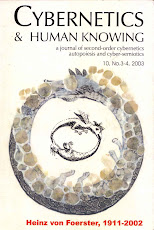LIVRO: ANTOLOGIA DE TEXTOS FILOSÓFICOS (2009)
LIVRO: ANTOLOGIA DE TEXTOS FILOSÓFICOS (2009)DE: Jairo Marçal (org.)
ED: SEED/PR - Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Brasil, Curitiba: 2009, 736 págs.)
PREFÁCIO, por Marilena Chauí
I.
"É conhecido o famoso adágio: "a filosofia é uma ciência com a qual e sem a qual o mundo permanece tal e qual". Ou seja, a filosofia é perfeitamente inútil. Teria sido este o motivo para sua exclusão no Ensino Médio? Não foi o caso.
A filosofia foi excluída do currículo do Ensino Médio no período da ditadura, portanto, entre 1964 e 1980. De 1964 a 1968, não houve grandes mudanças na grade curricular. As sucessivas reformas da educação se iniciaram a partir de 1969, após a promulgação do Ato Institucional no.5 (em dezembro de 1968), que suspendeu direitos civis e políticos dos cidadãos em nome da segurança nacional. O primeiro momento da reforma do Ensino Médio deu-se sob a vigência do AI-5 e da Lei de Segurança Nacional.
Apesar do adágio sobre sua aparente inutilidade, a filosofia foi excluída da grade curricular por ser considerada perigosa para [a] segurança nacional, ou como se dizia na época, "subversiva". Foi substituída por uma disciplina denominada Educação Moral e Cívica, que supostamente deveria doutrinar os jovens para a afirmação patriótica e a recusa da subversão da ordem vigente. Como se sabe, no início, essa disciplina foi lecionada por militares, o que a tornou suspeita aos olhos dos demais professores e raramente foi levada a sério pelos alunos.
O sucesso da reforma estava noutro lugar.
Com efeito, a reforma deu ênfase aos conhecimentos técnico-científicos e manifestou desinteresse pelas humanidades, consideradas pouco significativas para o chamado "milagre brasileiro". Essa primeira reforma, que seria sucedida por várias outras, instituiu o modelo educacional que vigorou pelos quase 50 anos seguintes: o Ensino Médio passou a ser visto de maneira puramente instrumental (e não mais como um período formador), isto é, como etapa preparatória para a universidade e esta, como garantia de ascensão social para uma classe média que, desprovida de poder econômico e político, dava sustentação ideológica à ditadura e precisava ser recompensada. Para isso, teve início o ensino de massa, sob a alegação de democratizar a escola.
O modelo educacional submeteu o ensino às condições do mercado, isto é, tomou a educação como mercadoria, [1] seja ao estimular a privatização do ensino e minimizar a presença do Estado do campo da educação, tornando precária e insignificante a escola pública e fomentando a exclusão social; [2] seja ao adequar o ensino às exigências do mercado de trabalho, que passou a determinar a própria grade curricular, de tal maneira que cada reforma pode ser perfeitamente compreendida à luz das condições desse mercado em cada momento econômico e social do país; [3] seja, enfim, ao conferir pouca importância à formação dos professores, como atesta a introdução da chamada Licenciatura Curta, e ao não lhes assegurar condições de trabalho dignas.
Evidentemente, houve resistência e luta contra o modelo educacional implantado pelas sucessivas reformas. Desde os meados dos anos 1970, associações docentes e estudantis de todo o país lutaram pela revalorização das humanidades no Ensino Médio e, entre eles, estiveram os grupos que se empenharam pelo retorno do ensino obrigatório da filosofia.
Assim, a volta da filosofia ao Ensino Médio tem, hoje, um significado simbólico de extrema relevância ao assinalar a presença da ideia da educação como formação, isto é, [1] como interesse pelo trabalho do pensamento e da sensibilidade, [2] como desenvolvimento da reflexão para compreender o presente e o passado, e [3] como estímulo à curiosidade e à admiração, que levam à descoberta do novo.
Por isso mesmo, é grande a responsabilidade dos professores universitários de filosofia, pois lhes cabe a tarefa de preparar os docentes do Ensino Médio, por meio de [1] formação filosófica sólida, [2] formação pedagógica segura e [3] recursos bibliográficos amplos e adequados. Além de, juntamente com eles, exigir condições de trabalho dignas (desde o salário, o número de horas de aula, o tamanho das classes até a garantia de que, sejam quais forem as condições sócio-econômicas dos alunos, a escola lhes assegure o acesso aos recursos educativos)."
II.
"Retomemos o adágio que afirma a inutilidade da filosofia.
Essa imagem encontra-se presente entre os alunos do Ensino Médio, que ainda estão marcados pelo modelo instrumental do ensino e pela figura dos exames vestibulares como fim último da existência escolar. Para muitos deles, a filosofia é um conjunto de termos abstratos, genéricos, na maioria das vezes incompreensíveis, palavrório que, no final das contas, se refere a coisa nenhuma. Curiosamente, porém, eles também costumam considerar a filosofia um conjunto de opiniões e valores pessoais, que orientam a conduta, o julgamento e o pensamento de alguém, variando de indivíduo para indivíduo - cada um tem "a sua filosofia".
Como quebrar essas imagens? Ou melhor, como fazer com que os alunos percebam que essas imagens não são absurdas, mas que seu sentido não é exatamente aquele com que se acostumaram? Como mostrar-lhes que a filosofia é um forma determinada de saber e não um conjunto fragmentado de opiniões, uma coleção de "eu acho que"? Como fazê-los compreender que esse saber é reflexivo e crítico (simultaneamente ruptura com o senso-comum e compreensão do sentido desse senso-comum)? Como levá-los a perceber que a filosofia possui uma história que lhe é imanente, mas que também a transcende, pois ela está na história? Como fazê-los ver que um filósofo interroga as questões de seu tempo para apreender o sentido da experiência vivida por ele e por seus contemporâneos e que, assim procedendo, nos ensina a interrogar nosso próprio presente?
Certamente, procedendo como o patrono da filosofia, Sócrates, convidando-os a interrogar o que são e de onde nascem suas crenças tácitas e suas opiniões explícitas. Essa interrogação, sabemos, levou Sócrates perante a Assembléia de Atenas, que o condenou como perigoso para a juventude. Essa interrogação levou à exclusão da filosofia no Ensino Médio, considerada subversiva pela Lei de Segurança Nacional. O convite a indagar sobre a origem e o sentido de nossas ideias, sentimentos e ações é, sem dúvida, um bom começo para a iniciação à filosofia.
Que caminho melhor para isso do que familiarizar os alunos com aquilo que é o cerne e o coração da filosofia, o discurso filosófico?
Experiência da razão e da linguagem, a filosofia é a peculiar atividade reflexiva em que, na procura do sentido do mundo e dos humanos, [1] o pensamento busca pensar-se a si mesmo, [2] a linguagem busca falar de si mesma e [3] os valores (o bem, o verdadeiro, o belo, o justo) buscam a origem e a finalidade da própria ação valorativa. Essa experiência [da razão e da linguagem], concretizada no e pelo trabalho de cada filosófico, constitui o discurso filosófico.
Por que a filosofia é um discurso dotado de características próprias, a iniciação a ela encontra um caminho seguro no ensino da leitura dessa modalidade de discurso, a fim de que os alunos aprendam a descobrir, no movimento e na ordenação das ideias de um texto, a lógica que sustenta a palavra filosófica para que possam analisá-la e comentá-la, primeiro, e interpretá-la, depois."
III.
"O que é ler?
Começo distraidamente a ler um livro. Contribuo com alguns pensamentos, julgo entender o que está escrito porque conheço a língua e as coisas indicadas pelas palavras, assim como sei identificar as experiências ali relatadas. Escritor e leitor possuem o mesmo repertório disponível de palavras, coisas, fatos, experiências, depositados pela cultura instituída e sedimentados no mundo de ambos.
De repente, porém, algumas palavras me "pegam". Insensivelmente, o escritor as desviou de seu sentido comum e costumeiro e elas me arrastam, como um turbilhão, para um sentido novo, que alcanço apenas graças a elas. O escritor me invade, passo a pensar de dentro dele e não apenas com ele, ele se pensa em mim ao falar em mim com palavras cujo sentido ele fez mudar. O livro que eu parecia dominar soberanamente apossa-se de mim, interpela-me, arrasta-me para o que eu não sabia, para o novo. O escritor não convida quem o lê a reencontrar o que já sabia, mas toca nas significações existentes para torná-las destoantes, estranhas, e para conquistar, por virtude dessa estranheza, uma nova harmonia que se aposse do leitor.
Ler, escreve Merleau-Ponty, é fazer a experiência da "retomada do pensamento de outrem através de sua palavra", é uma reflexão em outrem, que enriquece nossos próprios pensamentos. Por isso, prossegue Merleau-Ponty, "começo a compreender uma filosofia deslizando para dentro dela, na maneira de existir de seu pensamento", isto é, em seu discurso."
*
IMAGEM encontrada em... Ciranda Internacional de Informação Independente.