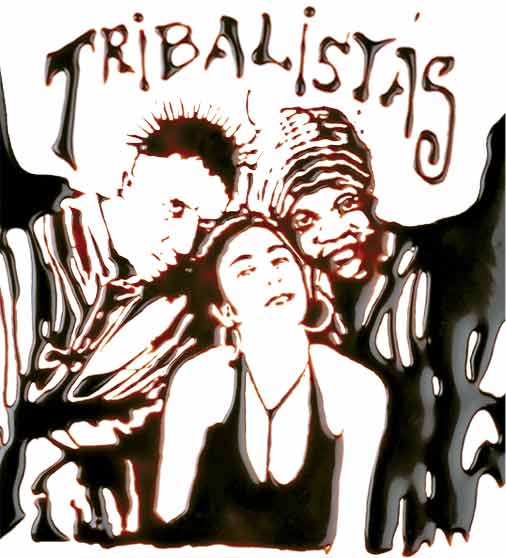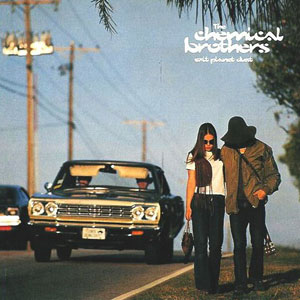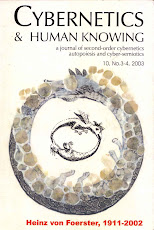LIVRO: "MENTE E NATUREZA, A UNIDADE NECESSÁRIA" (1979)
DE: Gregory Bateson
ED: Francisco Alves (Brasil, Rio de Janeiro: 1986, 235 págs.)
Título original: Mind and Nature, A Necessary Unity
Tradução do inglês: Claudia Gerpe
SUMÁRIO e GLOSSÁRIO
I. INTRODUÇÃO
II. EVERY SCHOOLBOY KNOWS
1. A ciência nunca prova nada
2. O mapa não é o território, e o nome não é a coisa designada
3. Não existe experiência objetiva
4. Os processos de formação de imagens são inconscientes
5. A divisão do Universo observado em partes e conjuntos é conveniente e pode ser necessária, mas nenhuma necessidade determina como ela deverá ser feita
6. Sequências divergentes não são previsíveis (explo: dízima periódica complexa)
7. Sequências convergentes são previsíveis (explo: dízima periódica simples)
8. Nada virá do nada
9. Número é diferente de quantidade
10. A quantidade não determina o padrão
11. Não existem 'valores' monótonos em biologia
12. Algumas vezes o pequeno é belo
13. A lógica é um modelo medíocre de causa e efeito
14. A causalidade não trabalha às avessas
15. A linguagem normalmente enfatiza somenete um lado de qualquer interação
16. A 'estabilidade' e a 'mudança' (evolução) descrevem partes de nossas descrições
III. VERSÕES MÚLTIPLAS DO MUNDO
1. O caso da diferença
2. O caso da visão binocular
3. O caso do planeta Plutão
4. O caso da adição de sinapse
5. O caso do punhal alucinatório
6. O caso das linguagens sinônimas
7. O caso dos dois sexos
8. O caso das batidas e do fenômeno moiré
9. O caso da 'descrição' da 'tautologia' e da 'explicação'
IV. CRITÉRIOS DE SISTEMAS MENTAIS
Critério 1. Uma mente é um agregado (ou nucleação?) de partes ou componentes que interagem (ver tb: sistemas, definição de Bunge e Uyemov)
Critério 2. A interação entre partes da mente é acionada por diferença
Critério 3. O processo mental requer energia colateral
Critério 4. O processo mental requer cadeias de determinação circulares (ou 'espirais'?) (ou mais complexas)
Critério 5. No processo mental, os efeitos da diferença devem ser encarados como transformações (isto é, versões codificadas) da diferença que os precederam (história)
Critério 6. A descrição e a classificação desses processos de transformação (processos de evolução) revelam uma hierarquia de tipos lógicos inerentes aos fenômenos
V. VERSÕES MÚLTIPLAS DO RELACIONAMENTO
1. Conheça a si próprio
2. Totemismo
3. Abdução
VI. OS GRANDES MÉTODOS ESTOCÁSTICOS
1. Os erros lamarckianos
2. Uso e desuso
3. Assimilação genética
4. O controle genético da alteração somática
5. "Nada virá do nada" na epigênese
6. Homologia
7. Adaptação e hábito
8. Processos estocásticos, divergentes e convergentes (ver tb: nucleação)
9. Comparando e combinando os dois sistemas estocásticos
VII. DA CLASSIFICAÇÃO AO MÉTODO
VIII. ENTÃO, O QUÊ?
APÊNDICE – O tempo está desarticulado
GLOSSÁRIO
Adaptação, aleatório, analógico, cibernética, co-evolução, digital, eidético, energia, entropia, epigênese, epistemologia, estocástico, fenocópia, fenótipo, filogenia, flexibilidade, genética, genótipo, grupo taxonômico, homologia, ideia, informação, linear e lineal, movimento browniano, mutação, negentropia, ontogenia, paralaxe, procronismo, reducionismo, sacramento, somático, tautologia, tensão, tipos lógicos, topologia.
Oportunidade de trabalho em Belo Horizonte
-
A Golder, empresa de consultoria, está com uma vaga aberta para Analista
Ambiental Pleno em Belo Horizonte.
Entre as atribuições do cargo estão o geren...
Há 5 anos