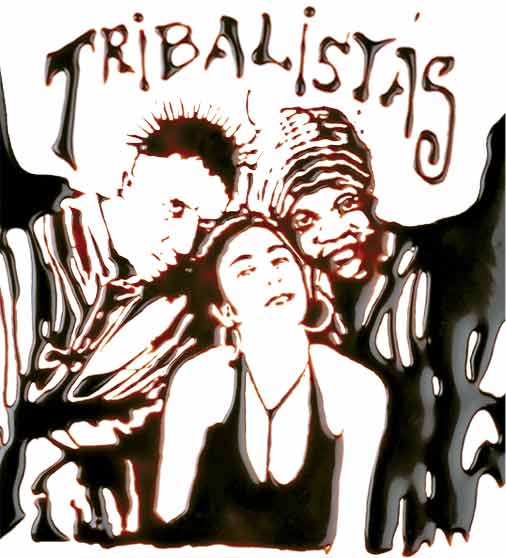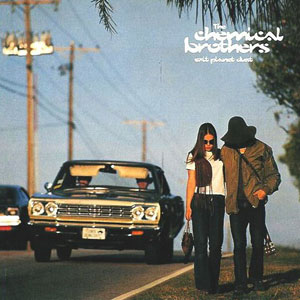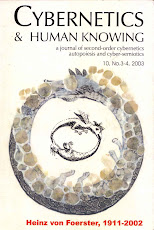LIVRO: "A ÁRVORE DO CONHECIMENTO - AS BASES BIOLÓGICAS DA COMPREENSÃO HUMANA" (1984)
DE: Humberto Maturana e Francisco Varela
ED: Palas Athena (Brasil, SP: 2004, 283 págs., 4a. edição)
Título original: El Árbol del Conocimiento
Tradução do espanhol: Humberto Mariotti e Lia Diskin
Capa: Maurício Zabotto
Coordenação editorial: Emílio Moufarrige
Revisão de provas: Lucia Brandão Saft Moufarrige
Diagramação: Maria do Carmo de Oliveira
Ilustração: Carolina Vial, Eduardo Osorio, Francisco Olivares e Marcelo Maturana Montañez
SUMÁRIO, FIGURAS, QUADROS e GLOSSÁRIO
Prefácio, de Humberto Mariotti
Outro olhar, outra visão
Um pouco de história
Desdobramentos
O agora e o futuro
Humberto Mariotti
CAPÍTULO I - CONHECER O CONHECER
A grande tentação
Fig. 1. Cristo coroado de espinhos, de Hieronimus Bosch, Museu do Prado, Madri.
As surpresas do olho
Fig. 2. Experiência do ponto cego.
Fig. 3. Os dois círculos desta página foram impressos com a mesma tinta. No entanto, o [círculo] de baixo parece rosado, por causa de seu entorno verde. Moral da história: a cor não é uma propriedade das coisas; ela é inseparável de como estamos estruturados para vê-la.
Fig. 4. Sombras coloridas.
O grande escândalo
Fig. 5. Mãos que desenham, de M.C. Escher.
Quadro: Os aforismos-chave do livro
Explicação
Quadro: Conhecer
CAPÍTULO II - A ORGANIZAÇÃO DO SER VIVO
Fig. 6. Reprodução da fotografia de uma galáxia.
Breve história da Terra
Fig. 7. Distâncias na Via Láctea e localização do nosso Sol em seu âmbito.
Fig. 8. Esquema da sequência de transformações de uma estrela desde a sua formação.
Fig. 9. Comparação em escala de modelos moleculares da água (na parte superior); um aminoácido (lesina) no meio; e uma proteína (a enzima ribonuclease) na parte inferior.
O aparecimento dos seres vivos
Quadro: Distinções, Unidades
Fig. 10. Acima: fotografias de fósseis do que se presume que tenham sido bactérias encontradas em depósitos de mais de três bilhões de anos. Abaixo: fotografias de bactérias vivas atuais, cuja forma é comparável à dos fósseis reproduzidos à esquerda.
Fig. 11. O experimento de Miller como metáfora dos eventos da atmosfera primitiva.
Quadro: A origem das moléculas orgânicas
Quadro: Organização e estrutura
Autonomia e autopoiese
Quadro: As células e suas membranas
Fig. 12. Fotografia tirada ao microscópio eletrônico, mostrando um corte de uma célula de sanguessuga, na qual aparecem membranas e componentes intracelulares (em aumento aproximado de 20.000 vezes).
Fig. 13. Diagrama dos principais perfis da célula de sanguessuga mostrada na Fig. 12: membrana nuclear, mitocôndrias, retículo endoplasmático, ribossomos e a membrana celular. Notar o esboço hipotético da projeção tridimensional do que poderia estar sob a superfície do espécime.
CAPÍTULO III - HISTÓRIA: REPRODUÇÃO E HEREDITARIEDADE
Fig. 14. Uma das primeiras divisões de um embrião de rato.
Reprodução: como ela acontece?
Quadro: Fenômenos históricos
Quadro: Organização e história
Modos de gerar unidades
Fig. 15. Um caso de réplica.
Fig. 16. Um caso de cópia com substituição de modelo.
Fig. 17. Um caso de reprodução por fratura.
A reprodução celular
Fig. 18. Mitose ou reprodução por fratura em uma célula animal. O diagrama mostra as diferentes etapas de descompartimentalização, que tornam possível a fratura reprodutiva.
Quadro: Hereditariedade
Herediariedade reprodutiva
Quadro: A idéia de informação genética
CAPÍTULO IV - A VIDA DOS METACELULARES
Fig. 19. Água, óleo de Giuseppe Arcimboldo.
Acoplamento estrutural
Fig. 20. Ciclo da vida dos Physarum, com formação de plasmódio por fusão celular.
Fig. 21. Ciclo da vida do Dycoselium (fungo de limo), com corpo frutífero formado por agrupamento das células que surgem da reprodução de uma célula-esporo fundadora.
Ciclos da vida
Tempo de transformações
Fig. 22. Exemplos das relações entre o tamanho alcançado e o tempo necessário para alcançá-lo, nas diferentes etapas dos ciclos de vida de quatro organismos [(a) mixomiceto, (b) rã, (3) sequóia e (4)baleia azul].
Fig. 23. Tempo de transformação em uni e metacelulares.
Quadro: Metacelularidade e sistema nervoso
A organização dos metacelulares
Quadro: Simbiose e metacelularidade
CAPÍTULO V - A DERIVA NATURAL DOS SERES VIVOS
Fig. 24. Charles Darwin.
Determinismo e acoplamento estrutural
Fig. 25. A corneta, como toda unidade, tem seus quatro domínios: a) de mudanças de estado; b) de mudanças destrutivas; c) de perturbações; d) de interações destrutivas.
Ontogenia e seleção
Quadro: Curva perigosa: a seleção natural
Filogenia e evolução
Fig. 26. As grandes linhas da evolução orgânica, desde as origens procariontes até nossos dias, com toda a variedade de unicelulares, plantas, animais e fungos, que surgem das ramificações e entrelaçamentos por simbiose de muitas linhagens originárias.
Fig. 27. Expansão e extinção em linhagens de um grupo de trilobites, animais que existiram entre 500 e 300 milhões de anos passados.
Deriva natural
Fig. 28. A deriva natural dos seres vivos, vista pela metáfora das gotas d'água.
Fig. 29. Deriva natural dos seres vivos como distâncias de complexidade em relação à sua origem comum.
Quadro: Mais ou menos adaptado
Fig. 30. Diferentes maneiras de nadar.
Quadro: Evolução: deriva natural
CAPÍTULO VI - DOMÍNIOS COMPORTAMENTAIS
Fig. 31. Orangotango tomando um rato de um gato.
Previsibilidade e sistema nervoso
De sapos e meninas-lobo
Fig. 32. Erro de pontaria ou expressão de uma correlação interna inalterada?
Fig. 33. a) Modo lupino de correr da menina bengali, algum tempo depois de ser encontrada. Comparar com o lobo da fotografia b. c) Comendo como aprendeu. d) Nunca a sentiram completamente humana.
Sobre o fio da navalha
Fig. 34. César, segundo a metáfora representacionista.
Fig. 35. A Odisséia epistemológica: navegando entre o redemoinho Caribdes do solipsismo e o monstro Cila do representacionismo.
Quadro: Comportamento
Comportamento e sistema nervoso
CAPÍTULO VII - SISTEMA NERVOSO E CONHECIMENTO
Fig. 36. Neurônios. Desenho de Santiago Ramón y Cajal.
História natural [biológica, evolutiva] do movimento
Fig. 37. Sagitaria sagitufolia em suas formas aquática e terrestre.
Fig. 38. Ingestão.
Fig. 39. Relações de tamanho e velocidade na Natureza.
Coordenação sensório-motora unicelular
Fig. 40. Correlação sensório-motora na natação de um protozoário.
Fig. 41. Propulsão flagelar da bactéria.
Fig. 42. Um pequeno celenterado: a hidra.
Correlação sensório-motora multicelular
Fig. 43. Esquema da diversidade celular nos tecidos da hidra, com destaque para os neurônios.
Estrutura neuronal
Fig. 44. O neurônio e sua extensão.
A rede interneuronal
Quadro: Sinapse
Fig. 45. Reconstrução tridimensional de todos os contatos sinápticos recebidos pelo corpo celular de um neurônio motor da medula espinhal.
Fig. 46. Diversidade neuronal (da esquerda para a direita): [1] célula bipolar da retina, [2] corpo celular de um neurônio motor da medula espinhal, [3] célula mitral do bulbo olfatório, célula piramidal do córtex cerebral de um mamífero.
Fig. 47. Desenho do sistema nervoso de uma minhoca (Tubulanus annulata), mostrando o agrupamento de neurônios em uma corda ventral, com uma porção cefálica avolumada.
Fig. 48. Correlação sensório-motora no movimento do braço.
Clausura operacional do sistema nervoso
Quadro: Conexões da via visual
Fig. 49. Tamanho relativo da porção cefálica do sistema nervoso em vários animais.
Quadro: História natural [biológica, evolutiva] do sistema nervoso
Plasticidade
Quadro: O cérebro e o computador
Comportamentos inatos e comportamentos aprendidos
Conhecimento e sistema nervoso
Quadro: Conhecimento
CAPÍTULO VIII - OS FENÔMENOS SOCIAIS
Fig. 50. Desenho de Juste de Juste.
Acoplamentos de terceira ordem
Fig. 51. Jaçanã.
Fig. 52. Momentos do comportamento de côrte do peixe espinhoso.
Insetos sociais
Fig. 53. Diferentes morfologias nas castas das formigas mirmicíneas (Pheidole kingi instabilis). Indivíduos da casta operária: de (a) a (f). A rainha aparece em (g) e o macho em (h).
Fig. 54. Mecanismo de acoplamento entre os insetos sociais: trofolaxe.
Vertebrados sociais
Fig. 55. A fuga como fenômeno social entre os cervos.
Fig. 56. A caça como fenômeno social entre os lobos.
Fig. 57. Um grupo de babuínos se desloca.
Fig. 58. Esquema comparativo da distribuição de indivíduos babuínos e chimpanzés. 1. Estrutura correspondente aos babuínos habitantes da savana. 2. Estrutura correspondente aos chimpanzés. 3. ------- Fronteira de um grupo fechado. 4. - - - - Fronteira de um grupo aberto.
Fenômenos sociais e comunicação
O cultural
Quadro: Espectograma
Fig. 59. Dueto vocal entre duas aves africanas.
Quadro: Fenômenos sociais, Comunicação
Quadro: A metáfora do tubo para a comunicação
Quadro: Altruísmo e egoísmo
Quadro: Organismos e sociedades
Fig. 60. Macaco do Japão lava suas batatas
Quadro: Conduta cultural
CAPÍTULO IX - DOMÍNIOS LINGUÍSTICOS E CONSCIÊNCIA HUMANA
Fig. 61. Hieróglifos egípcios.
Descrições semânticas
Quadro: Domínio linguístico
Quadro: A linguagem
História natural [biológica, evolutiva] da linguagem humana
Fig. 62. O Ameslan não é uma linguagem fonética e sim 'ideográfica'. Aqui, o gorila Koko aprende o gesto correspondente a 'máquina'.
Fig. 63. Interação linguística interespecífica.
Fig. 64. Capacidade de generalização, segundo diferentes histórias de aprendizagem linguística.
Fig. 65. Nossa linhagem [humana].
Fig. 66. Comparação da capacidade craniana dos hominídeos.
Fig. 67. No período neolítico, as populações humanas eram coletoras-caçadoras (mapa acima). Essas origens estão ocultas nos estilos de vida atuais (mapa inferior).
Janelas experimentais para o mental
Fig. 68. O calcanhar de Aquiles para a habilidade linguística oral humana (colorido).
Fig. 69. Ataque epilético de uma inca, segundo gravura da época.
Fig. 70. Desconexão inter-hemisférica no tratamento da epilepsia: o corpo caloso seccionado aperece colorido.
Fig. 71. Geometria da projeção da retina no córtex. Perturbações localizadas no lado esquerdo afetarão exclusivamente o córtex do lado direito.
Fig. 72. Situação experimental para o estudo comportamental de pessoas com secção do corpo caloso. Coloca-se o indivíduo de modo que não possa ver suas mãos nem o objeto a ser manipulado. A seguir, são mostradas imagens à direita ou à esquerda de seu campo visual, que ele deve identificar com as mãos ou com a fala.
O mental e a consciência
CAPÍTULO X - A ÁRVORE DO CONHECIMENTO
O conhecer e o conhecedor
Fig. 73. A galeria de quadros, de M.C. Escher.
O conhecimento do conhecimento obriga
Quadro: Ética
Oportunidade de trabalho em Belo Horizonte
-
A Golder, empresa de consultoria, está com uma vaga aberta para Analista
Ambiental Pleno em Belo Horizonte.
Entre as atribuições do cargo estão o geren...
Há 5 anos